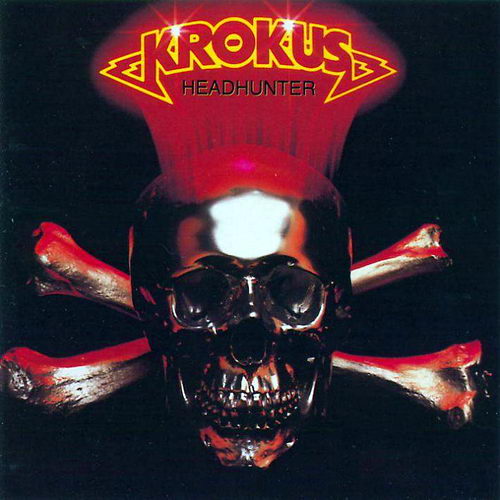BLACK SABBATH
Em fevereiro de 1970, eu tinha um ano e meio de
idade. Não imaginava que eventos que seriam tão significativos em meu futuro
estariam ocorrendo tão distante de minha realidade, kilômetros e kilômetros
atravessando o Atlântico.
Nesse intervalo de tempo, toda uma história de
vida se constrói. O mundo e suas relações geopolíticas se modificaram centenas
de vezes. Guerras começaram e terminaram, mapas foram alterados, a história
seguiu seu percurso.
E a arte também. A música, mais especificamente,
viu nascer e morrer diversos estilos ou tendências, além das próprias formas de
sua fruição.
Mas o Black Sabbath permanece.
Sofreu, também, efeitos da passagem do tempo,
mas permanece.
E continua relevante. As pessoas ainda param
pra ouvir o que o Black Sabbath está fazendo. Da pequena bandinha de botecos
até se tornar influência e, por fim, ocupar o zênite de músicos acima do bem e
do mal, de artistas que transcenderam conceitos e tornaram-se definições,
adjetivos. Sabbathico.
Porém, o mesmo tempo que louvamos por conduzir
o Sabbath até onde chegou é o tempo que amaldiçoamos por tirar nossa
ingenuidade e esvanecer nossas impressões. A música do Black Sabbath transmitia
medo. Era palpável. Foi assim que eu o percebi nos primeiros anos de
doutrinação metálica, quando eu era ignaro em relação a todos os conceitos da
arte heavy metal. O efeito daquelas três notas da música homônima, o trítono
proibido e emoldurado por tambores soturnos assustava. Música não deveria ser
algo para falar de amor e alegria? Não era isso que a nossa cultura informava?
De repente, conhecer algo, uma melodia, que soava tão estranha e deslocada
daquilo a que estavamos acostumados, nos fazia voltar as agulhas para o começo
várias e várias vezes, em um misto de fascinação e curiosidade, com o silêncio
e a concentração típicas de quem está assistindo um filme de horror, sozinho, à
noite.
Por diversas vezes, já li em entrevistas que
apenas a formação original é capaz de executar as músicas dos primeiros discos
de modo correto. E eu concordo. Correto, aqui, não significa a afinação
perfeita ou o tempo das músicas. Significa a interação única entre aqueles
quatro ingleses. A influência que a respiração de cada um tem no andamento das
faixas. Muito se diz que Bill Ward seria mais um percursionista do que um
baterista e eu também estou de acordo. O seu desempenho, principalmente nas
duas primeiras músicas, cujos riffs deixam bastante espaço pra preenchimento,
escancara isso. A voz estranha de Ozzy, o anti-Robert Plant, atuando como
elemento essencial do arranjo, e a interação única entre as cordas de Tony
Iommi e Geezer Butler, completam esse autêntico conjunto. Bandas existem aos
montes, mas conjuntos - conjunção de características que se mesclam e se
completam resultando em uma unidade ímpar – existem poucas, e o Black Sabbath
original é uma delas.
Como é típico dos álbuns de estréia dos grandes
nomes, lançados naquele tempo, esse aqui contém números que se consagraram para
a eternidade, como Black Sabbath, The Wizard e N.I.B., covers, como Evil Woman,
e experimentação, como a dobradinha Sleeping Village e Warning, sendo essa
última repleta de momentos zeppelinianos (outro adjetivo).
Tudo que eu falei até agora não alcança uma
ínfima parte do que eu gostaria de dizer ou do que eu sinto sobre esse disco e
essa banda. Mesmo que eu continuasse a escrever, não chegaria em momento algum
a um final que fosse satisfatório. Recentemente, eu estive em Santiago e fui
conhecer o bar Hard Rock Café de lá. Havia, exposta no local, uma guitarra do
Tony Iommi. Uma Gibson preta com as marcações em forma de cruz. Creio que eu
passei uns cinco minutos parado, em silêncio, olhando pra ela. O que eu senti,
naquele momento, as palavras que eu não verbalizei, são as mesmas que eu usaria
para concluir esse texto.